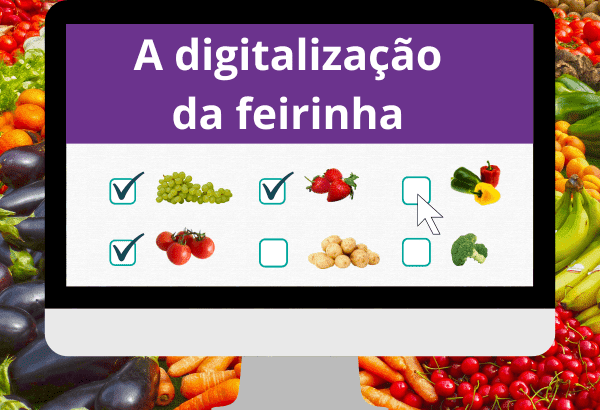Por Washington Castilhos
Há dez anos, a médica Renata Travassos trocou a vida em uma casa de vila no subúrbio carioca, onde morava há 30 anos, pela comodidade oferecida por um complexo de condomínios na Barra da Tijuca, bairro nobre da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. “Tenho tudo no condomínio, do mercado à academia, não precisamos sair de casa para quase nada”, diz ela.
Proprietário da Central Micro Market, negócio de minimercados autônomos projetados para condomínios e empresas, o advogado Marcos Lacerda afirma que, além da praticidade e da conveniência de obter itens de mercado sem “sair de casa”, um aspecto importante para o sucesso desse ramo de atividade é a sensação de segurança das pessoas que moram nesses complexos de apartamentos de alto padrão. “Para os moradores desses condomínios, a instalação exclusiva de minimercados os exclui dos problemas da sociedade externa, como a exposição à violência armada e à violência no trânsito”, destaca o empresário.
A segurança tem sido a principal justificativa das pessoas de poder aquisitivo mais alto para explicar a preferência por morar em grandes condomínios fechados, geralmente localizados em bairros de melhor infraestrutura. Esse movimento de isolamento, ocorrido entre e intra bairros, é parte de um processo nomeado por especialistas de “segregação socioespacial”, fenômeno observado não só na Barra da Tijuca, mas também em outras localidades cariocas e nas cidades modernas em geral. De acordo com um estudo recente, o Rio de Janeiro é a 14ª cidade com maior índice de segregação socioespacial no país.
O fenômeno se refere à forma como diferentes grupos se concentram em um determinado espaço, com base na educação, raça, idade ou níveis de rendimento, fatores que vão além da questão da segurança, mas que podem se entrelaçar a ela.
“Em alguns bairros da cidade do Rio, observa-se essas ilhas de isolamento em condomínios, a que chamamos de autossegregação. E isso não é exclusivo de bairros ricos, já que mesmo naqueles menos nobres existem essas ilhas”, diz a pesquisadora Julia Strauch, professora adjunta da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisadora titular da Escola Nacional de Ciências Estatísticas (Ence/IBGE). “São moradores que ascendem socialmente e permanecem no seu bairro de origem por diversos motivos, optando por mudar de rua ou localidade com melhores condições de infraestrutura”, explica.
A pesquisadora ressalta que a segregação também pode ocorrer em forma de imposição – a chamada “segregação involuntária” ou “forçada”. “Esta se dá de forma mais acentuada com a população de baixa renda, que não tem muitas opções para locais de moradia”, complementa Strauch.
Ela explica que, mesmo um bairro bom, localizado na faixa litorânea, pode ter segregação involuntária ou forçada. “Um exemplo é a própria Barra da Tijuca, que exibe segregação em Rio das Pedras”, diz, referindo-se à comunidade que cresceu paralelamente à Barra nos anos 1970/80, à medida que a demanda por mão de obra aumentava na região.
A especialista coordena um projeto de pesquisa cujo objetivo é analisar os aspectos de segregação socioespacial, desigualdade e pobreza no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, a partir dos dados do Censo de 2010 e de 2022, junto com a professora adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Ana Paula Vasconcelos. Com a investigação, as pesquisadoras pretendem compreender os padrões, causas e consequências desses isolamentos voluntários ou impostos.
Em estudo anterior, no qual analisaram o padrão de segregação racial e econômico (de renda) da capital fluminense, baseados nos dados do Censo 2010, observaram que a segregação residencial afeta tanto ricos quanto pobres, embora de maneiras diferentes, e que a segregação racial nos bairros próximos às praias é mais intensa do que nas demais localidades da cidade, com as pessoas brancas se concentrando mais na faixa litorânea, mesmo naquelas áreas consideradas favelas, quando comparadas com outras localidades similares no município.
Por sua vez, as pessoas negras (pretas e pardas), em geral, não residem na orla da cidade, mas em áreas mais pobres das zonas Norte e Oeste, por segregação involuntária.
A pesquisadora explica que, para a coleta de dados do Censo Demográfico, cada bairro é dividido em setores censitários, e cada setor tem em torno de 300 domicílios. Assim, os resultados do estudo feito no Rio de Janeiro a partir dos dados do Censo de 2010 mostram que Barra da Tijuca, Copacabana, Gávea, Ipanema, Lagoa e Leblon são os bairros que continham setores censitários com mais de 95% de brancos, alguns deles com 0% de pessoas pretas. Estes eram também os bairros onde os responsáveis pelo domicílio recebiam os maiores rendimentos.
Já Bangu, Cidade de Deus, Campo Grande, Freguesia (Jacarepaguá), Jacarezinho, Madureira, Mangueira, Vila Isabel e Santa Cruz estavam entre os bairros com setores censitários compostos por apenas 15% de brancos. E também abrigaram uma maior população de domicílios com menores rendimentos.
“A pobreza no Brasil tem cor”, afirma a pesquisadora, fazendo coro com outros estudiosos brasileiros que declararam o mesmo.
Ela ressalta que não é fácil medir a segregação. Para mensurá-la e calcular a distância entre os grupos em relação à raça e à renda, o grupo utiliza o índice de dissimilaridade, medida estatística que calcula a proporção entre a composição populacional das áreas e a população total. Este índice assume valores entre 0 e 1: quanto mais próximo de 0, menor a dissimilaridade, e quanto mais próximo de 1, maior a dissimilaridade. No Rio, os locais que apresentaram maiores valores do índice (mais próximo de 1) são os mesmos que apresentam a maior concentração de brancos.
“Ou seja, a população branca pode ser considerada mais segregada, por não conviver no mesmo espaço com as pessoas negras. Para estas últimas, a segregação ocorre negativamente no acesso às oportunidades, diferente do que ocorre com as pessoas brancas”, relata Strauch.
O estudo feito no Rio de Janeiro será atualizado para os dados do Censo de 2022, de modo a avaliar a evolução da segregação socioespacial e ver se esses padrões continuam. O mesmo está sendo feito em Belo Horizonte. “Nossa ideia é analisar e qualificar a desigualdade nas duas cidades, entender os padrões criados e, com nossos dados, subsidiar políticas públicas que combatam essa desigualdade”, explica.
As pesquisadoras acreditam que a segregação no território pode ser identificada através das redes sociais. Assim, para confirmar os dados estatísticos, elas vão se valer das mídias digitais para verificar o que as pessoas falam sobre os espaços em que vivem. Para isso, pretendem coletar o que moradores das capitais fluminense e mineira comentam nos espaços virtuais sobre segregação, pobreza, vulnerabilidade e desigualdade. O primeiro passo será criar um perfil para acessar a base de dados do Instagram e do Facebook. A partir daí, a ideia é criar um programa que, por meio de palavras-chave, permita extrair informação georreferenciada, possibilitando identificar a localização das postagens.
“Queremos ver se nossos achados se refletem no dizer das pessoas, no espaço em que elas vivem, e saber o que elas dizem em relação ao acesso à infraestrutura de esgoto e água, por exemplo”, finaliza a pesquisadora.